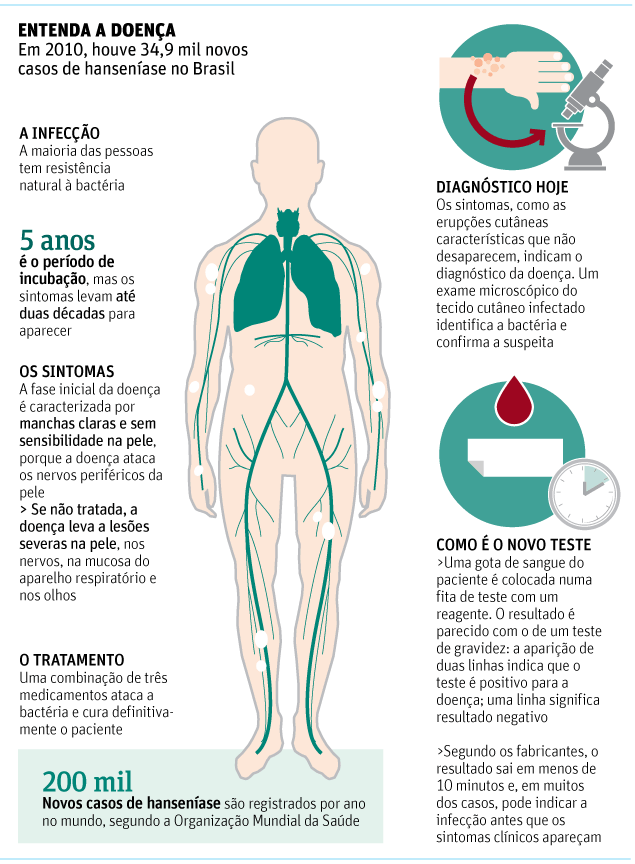A FDA (Food and Drug Administration,
agência reguladora de alimentos e medicamentos nos EUA) aprovou na quinta-feira
o primeiro tratamento para proporcionar visão limitada a cegos, envolvendo uma
tecnologia conhecida como retina artificial.
Com o dispositivo, pessoas que apresentam
um tipo determinado de deficiência visual grave conseguem detectar faixas de
pedestres nas ruas, a presença de pessoas ou carros e, em alguns casos, até
mesmo números ou letras grandes. A aprovação do sistema é um marco numa nova
fronteira das pesquisas com visão, um campo em que cientistas vêm alcançando
avanços grandes com terapia genética, optogenética, células-tronco e outras
estratégias.
"Isto é apenas o começo", disse
Grace Shen, diretora do programa de doenças retínicas no National Eye Institute
(instituto nacional dos olhos), que ajudou a financiar a pesquisa com retinas
artificiais e está dando suporte a muitos outros projetos de terapias para
deficiência visual grave. "Temos muitas novidades emocionantes quase
prontas para sair."
A retina artificial é uma folha de
eletrodos implantada no olho. O paciente também recebe óculos com câmera e
processador de vídeo portátil acoplados. Conhecido como Argus II, o sistema
permite que sinais visuais passem ao largo da parte danificada da retina e
sejam transmitidos ao cérebro.
Com a retina artificial, ou prótese
retínica, um cego não consegue enxergar no sentido convencional do termo, mas
pode identificar os contornos e limites dos objetos, especialmente quando há
contraste entre luz e sombra --por exemplo, fogos de artifício contra um céu
noturno ou meias brancas misturadas com pretas.
"Sem o sistema, eu não poderia
enxergar nada. Se você estivesse diante de mim e se movesse para a esquerda ou
para a direita, eu não saberia", comentou o encanador aposentado Elias
Konstantopoulos, 74 anos, de Baltimore, um dos 50 americanos e europeus que vêm
usando o dispositivo em testes clínicos. Ele disse que o aparelho lhe permite
diferenciar o meio-fio da rua e detectar os contornos de objetos e pessoas.
"Quando você não tem nada, isso é alguma coisa. É muita coisa."
A FDA aprovou o Argus II, fabricado pela
Second Sight Medical Products, para o tratamento de pessoas com retinite
pigmentosa grave, na qual as células fotorreceptoras, que recebem a luz, se
deterioram.
A câmera ocular capta imagens que o
videoprocessador traduz em desenhos pixelados de luz e sombra, transmitindo-os
aos eletrodos. Estes, por sua vez, os enviam ao cérebro.
"As questões que este dispositivo
colocou para a FDA foram muito novas", comentou a Dra. Malvina Eydelman,
diretora da Divisão de Dispositivos Oftalmológicos e de Otorrinolaringológicos
da FDA. "Trata-se de um grande avanço para todo o campo da
oftalmologia."
Cerca de 100 mil americanos sofrem de
retinite pigmentosa, mas num primeiro momento entre 10 mil e 15 mil poderão ser
beneficiados com o Argus II, segundo a empresa. Para isso, as pessoas precisam
ter mais de 25 anos, terem tido vista útil anterior e terem deficiência visual
tão grave que o dispositivo representaria uma melhora para elas.
Mas especialistas disseram que a tecnologia
é promissora para outros cegos também, especialmente os que apresentam
degeneração macular avançada e relacionada à idade --a maior causa de perda de
visão entre pessoas mais velhas, que afeta cerca de 2 milhões de americanos.
Cerca de 50 mil pessoas teriam deficiência visual suficientemente grave para
que o dispositivo as ajudasse, disse o Dr. Robert Greenberg, executivo-chefe da
Second Sight.
Na Europa, o Argus II foi aprovado em 2011
para o tratamento de cegueira grave decorrente de qualquer tipo de degeneração
retínica externa, mas até agora está sendo vendido para retinite pigmentosa.
Nos Estados Unidos serão necessários testes adicionais para que essa aprovação
seja conseguida.
Com o tempo, disse Greenberg, a empresa
pensa em implantar eletrodos diretamente no córtex cerebral, "para
podermos tratar cegueira de qualquer origem".
Num primeiro momento o Argus II será
disponibilizado em sete hospitais de Nova York, Califórnia, Texas, Maryland e
Pensilvânia. O dispositivo vai custar cerca de US$150 mil, valor que não inclui
a cirurgia e o treinamento. A Second Sight disse estar otimista quanto às
chances de o seguro-saúde cobrir o custo do sistema.
O Argus II foi desenvolvido ao longo de 20
anos pelo oftalmologista e engenheiro biomédico Mark S. Humayun, da
universidade de Southern California. Parte do financiamento veio de fontes
privadas e do Fundação Nacional dos Olhos, a Fundação Nacional de Ciência e o
Departamento de Energia, todos organismos federais.
Humayun disse que enxerga a possibilidade
de aplicar a tecnologia a outras condições além da deficiência visual,
implantando eletrodos em outras partes do corpo para tratar problemas de
controle da bexiga, por exemplo, ou de paralisia da espinha. "Não
visualizamos o corpo humano como uma grade elétrica, mas ele funciona com
impulsos elétricos", ele explicou.
O Argus II foi aprovado sob um programa
especial da FDA que o descreveu como "dispositivo de uso
humanitário", descrição que, segundo Eydelman, se aplica a terapias que
serão usadas para menos de 4.000 pessoas por ano. O Argus II é apenas a 57º
isenção concedida pela agência para aparelhos humanitários. As empresas que
buscam a aprovação de dispositivos humanitários podem conduzir provas clínicas
muito menores --a Second Sight apresentou dados relativos a apenas 30
pacientes-- e só precisam apresentar provas da segurança de uso e do
"benefício provável" de uso do aparelho, não provas de sua eficácia,
disse Eydelman.
A FDA colaborou com a Second Sight para
desenvolver maneiras de medir os benefícios, incluindo tarefas como caminhar
por uma calçada sem sair dela e juntar meias brancas, cinzas e pretas com seus
pares.
Dos 30 pacientes que participaram dos
testes clínicos do dispositivo, 11 apresentaram um total de 23 efeitos
negativos, disse o FDA, incluindo descolamento da retina e erosão da esclera.
Eydelman disse que a empresa "tomou
medidas substanciais" para resolver os problemas de segurança de uso,
fazendo "muitas modificações no dispositivo". De acordo com
Greenberg, apenas duas pessoas precisaram ter o implante removido. Em setembro
passado, um grupo de assessoria do FDA votou por unanimidade pela aprovação do
aparelho, concluindo que seus benefícios superam os riscos.
Alguns pacientes apresentam mais melhoras
que outros, por motivos que a empresa ainda não pôde determinar. Kathy Blake,
de Fountain Valley, Califórnia, contou que vem tendo êxito com um exercício da
Second Sight para verificar se os pacientes conseguem identificar números ou
letras grandes sobre uma tela de computador.
O advogado Dean Lloyd, de Palo Alto,
Califórnia, contou que num primeiro momento se perguntou "será que vale a
pena gastar todo esse tempo e dinheiro? Pensei que não, inicialmente." No
início apenas nove dos 60 eletrodos estavam funcionando, mas com o tempo seu
implante foi ajustado de modo que mais eletrodos reagiram, e hoje 52 deles
funcionam. Lloyd consegue enxergar clarões de cor, algo que nem todos os
pacientes conseguem; ele usa os óculos e o videoprocessador constantemente.
"Se não estou usando, é como se eu
estivesse sem calças", ele explicou. "Já cheguei a adormecer com esta
coisa."
Stephen Rose, diretor de pesquisas da
Fundação para o Combate à Cegueira, que apoiou os trabalhos muito iniciais de
Humayun mas não os financiou desde então, disse que, com o tempo, a retina
artificial será apenas uma das opções para ajudar os deficientes visuais.
"Acho que as possibilidades são
tremendas", ele comentou. "Não estou minimizando a importância da prótese
retínica, não me entenda mal. Ela é importantíssima para algumas pessoas e já
existe."
Barbara Campbell, 59 anos, aprecia o fato
de o aparelho ajudá-la a andar pelas ruas de Manhattan, localizar o ponto de
ônibus e enxergar a lâmpada na entrada de seu edifício quando está andando de
táxi. Mas o mais emocionante é que ele a ajuda a apreciar museus, teatro e
concertos.
Num show de Rod Stewart, ela contou,
"consegui enxergar o cabelo dele", loiro quase branco sob os
holofotes. Num concerto de Diana Ross, apesar de Campbell estar sentada longe
do palco, a cantora "estava usando uma roupa brilhante, e eu consegui
enxergá-la".
Mas ela não teve a mesma sorte num show de
James Taylor. A roupa discreta dele não gerou contraste que a retina artificial
conseguisse registrar. Uma pena: "Ele não brilhou tanto", disse
Campbell.
Fonte: Folha de
São Paulo on line do “NEW YORK TIMES”
Por: PAM
BELLUCK
Tradução: CLARA ALLAIN