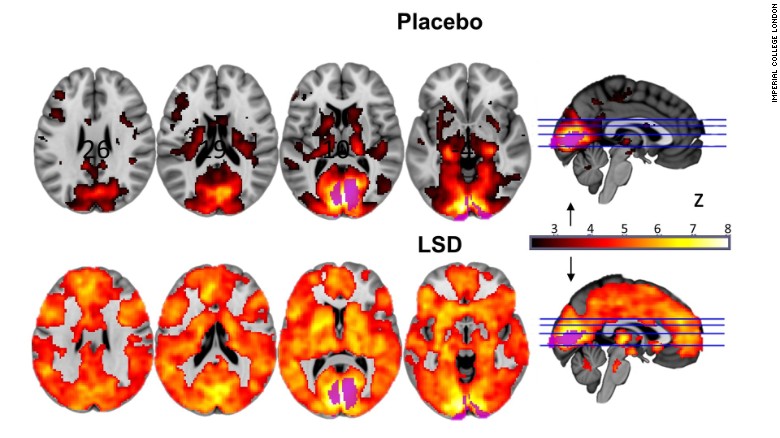Registros atuais e anteriores ainda não retratam a realidade do problema no país
© RUNPHOTO / GETTY IMAGES
Foi
preciso atravessar meio mundo para o vírus zika deixar o anonimato. Por
quase 60 anos o vírus circulou pela África e pela Ásia praticamente sem
ser notado. Ao aportar no Brasil, porém, encontrou condições favoráveis
para se espalhar rapidamente e atraiu a atenção internacional ao se
tornar o principal suspeito do aumento nos casos de microcefalia, um
tipo de má-formação congênita da qual pouco se ouvia falar no país.
Microcefalia é um termo de origem grega usado pelos médicos para
designar uma condição em que as crianças nascem com a cabeça pequena
demais para o tempo de gestação. A maioria delas, segundo especialistas,
é saudável. Apenas uma pequena parte nasce com microcefalia em
decorrência de problemas de desenvolvimento que deixam o cérebro menor.
Nesses casos, não há cura. Um bebê pode nascer com o cérebro pequeno
demais por causa de uma série de defeitos genéticos – há ao menos 16
genes conhecidos associados ao problema. Mas também pode ter
microcefalia em consequência de razões ambientais, como o consumo de
álcool ou exposição a produtos tóxicos na gestação, ou de uma série de
infecções, como as causadas pelo vírus da rubéola e do herpes, pelo
parasita da toxoplasmose ou pela bactéria da sífilis.
A possibilidade de o zika também causar o problema soou o alerta
geral pela facilidade com que o vírus se dissemina. Considerado
inofensivo por muito tempo, o zika entrou no Brasil entre 2014 e 2015 e,
segundo o Ministério da Saúde, já pode ter infectado 1,4 milhão de
pessoas. Nesse mesmo tempo, detectou-se um aumento nos casos de
microcefalia, em especial na região Nordeste. De 2000 a 2014, o
ministério registrou a média anual de 164 casos de microcefalia. Mas, de
outubro de 2015 a 20 de fevereiro deste ano, o número de casos
confirmados alcançou 583.
Em meio ao surto, políticos e autoridades da saúde chegaram a afirmar
que o país estaria diante da mais terrível epidemia dos últimos tempos,
que, se não fosse contida, poderia deixar toda uma geração de
brasileiros com danos neurológicos ou, como disseram, “sequelados”.
Começam a surgir evidências, porém, de algo que muita gente já
suspeitava: o número de casos de microcefalia sempre foi subestimado no
Brasil. Não conhecer bem a realidade anterior à entrada do zika no país
torna mais difícil saber se o problema está de fato aumentando – e, caso
esteja, de quanto é o aumento e qual proporção dele se deve ao vírus.
Nesse cenário, coletar dados que permitam conhecer como o problema
evolui ao longo do tempo é tão importante quanto estudar a melhor forma
de combater o vírus e o mosquito.
Uma indicação importante de que o sistema de saúde brasileiro não
identificava parte dos casos de microcefalia vem de um estudo recente
realizado por pesquisadores de Pernambuco e da Paraíba, os dois estados
que mais relataram nascimentos de bebês suspeitos de terem a cabeça
anormalmente pequena nos últimos meses.
Com a possibilidade de se estar diante de um surto do problema, a
médica Sandra da Silva Mattos, especializada em cardiologia fetal no
Recife, propôs um desafio à sua equipe. Ela coordena uma rede de
cardiologia que nos últimos anos acompanhou 100 mil recém-nascidos na
vizinha Paraíba. No final de 2015, Sandra recrutou 40 enfermeiras e
auxiliares de enfermagem de 21 maternidades paraibanas e pediu que
vasculhassem os registros das salas de parto para recuperar informações
sobre 10% das crianças.
Conseguiu-se mais. Em dezembro, elas revisaram as medidas do tamanho
da cabeça (perímetro cefálico) de 16.208 bebês nascidos entre 2012 e
2015 na Paraíba. O levantamento indicou que de 2% a 8% dessas crianças
poderiam ser classificadas como tendo microcefalia, dependendo do
critério adotado para definir o problema. Isso representa,
respectivamente, 320 e 1.300 recém-nascidos e não significa que todos os
casos suspeitos de microcefalia estejam necessariamente associados ao
vírus zika.
O importante é que mesmo o número menor, obtido pelo critério mais
restritivo e que representaria os casos mais graves de microcefalia, já
somaria cerca de metade da média anual de 164 casos que o Ministério da
Saúde registrava para todo o país por meio do Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos (Sinasc), a base de dados nacional que coleta
informações sobre os recém-nascidos brasileiros. Nessa base, há um campo
para inserir a medida do crânio, mas, como suspeitam vários
pesquisadores, muitas vezes ele não era preenchido – talvez porque a
notificação de microcefalia não fosse obrigatória anteriormente.
Aumento atípico
Nos últimos quatro meses o Ministério da Saúde identificou um
número mais alto de casos de microcefalia, depois de alertado por
médicos pernambucanos que haviam detectado um aumento atípico no
nascimento de crianças com a cabeça menor que o considerado normal para o
tempo de gestação.
 |
| Facilidade de disseminação do vírus zika(em vermelho) gerou medo de uma epidemia |
© CDC
De 8 de novembro de 2015 a 20 de fevereiro deste ano, nasceram no
país ao menos 5.640 bebês com essa característica. Esse número
corresponde a uma média de 46 novos casos suspeitos de microcefalia por
dia, uma proporção assustadoramente mais elevada do que a conhecida
anteriormente. De 2000 a 2014, a média registrada pelo Sinasc era de
aproximadamente um a cada dois dias. O aumento dos possíveis casos e a
associação deles com a infecção pelo vírus zika durante a gestação
alçaram a microcefalia para a posição de principal ameaça à saúde
pública nacional.
“O estudo da Paraíba é importante por mostrar, usando os critérios de
microcefalia adotados pelo ministério, que havia uma cegueira e o
Sinasc não estava detectando a maioria dos casos”, afirma o neurologista
pediátrico Fernando Kok, professor de neurologia infantil na Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP).
Na realidade, a parcela identificada anteriormente pelo Sinasc era
ínfima. A cada ano nascem no Brasil aproximadamente 2,9 milhões de
crianças e os 164 casos de microcefalia notificados por ano de 2000 a
2014 representam apenas 0,006% desse universo. Esse número é muito baixo
quando comparado aos poucos dados conhecidos de outras populações. Os
Estados Unidos, por exemplo, adotam um critério semelhante ao brasileiro
para definir a microcefalia e apresentam uma proporção de casos mais
elevada.
Lá nascem por volta de 3,9 milhões de bebês por ano e, segundo uma revisão publicada em 2009 na revista Neurology,
os casos identificados de microcefalia beiravam os 25 mil. Isso
significa que aproximadamente 0,6% dos bebês norte-americanos tem
microcefalia e que lá o problema seria 100 vezes mais comum do que por
aqui.
Convertida em um número um pouco mais concreto para facilitar a
comparação, a taxa de 0,006% medida pelo Sinasc indica que apenas 60
recém-nascidos brasileiros em cada grupo de 100 mil teriam microcefalia e
deveriam ser encaminhados para mais avaliações. Já pela taxa mais
conservadora (2%) encontrada agora na Paraíba seriam 2 mil crianças em
cada grupo de 100 mil – ou 58 mil em todo o país.
É muito? Talvez não. Depende do critério usado para definir
microcefalia. No início de dezembro, o ministério passou a classificar
como suspeitas de terem microcefalia aquelas crianças cuja cabeça tem
menos de 32 centímetros (cm) de circunferência ao nascer. Médicos,
epidemiologistas e estatísticos costumam usar um gráfico bastante
simples para verificar se determinadas medidas apresentadas por um
indivíduo fogem muito ao padrão da população – em uma parte dos casos
essa diferença pode indicar algum problema de saúde.
O gráfico é construído ao se colocar no eixo horizontal as medidas
das cabeças das crianças de uma população e no vertical o número de
crianças. De modo geral, o tamanho da cabeça dos recém-nascidos humanos
tem entre 30 cm e 39 cm. Há quase 20 anos um levantamento encomendado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a um consórcio internacional de
pesquisadores tomou várias medidas, entre elas a da cabeça, de 27 mil
crianças de diferentes populações, brasileira inclusive. Desse trabalho,
resultou um gráfico mostrando como se distribui o tamanho dos crânios
na população humana. Ele tem o formato de um sino e é apreciado pelos
estatísticos por apresentar propriedades matemáticas bem conhecidas.
Uma delas é que a média – nesse caso, a soma total das medidas das
cabeças dividida pelo total de crianças – separa o gráfico ao meio, em
duas partes simétricas (
ver gráfico).
Os estatísticos sabem que a área total sob a curva representa toda a
população estudada e conseguem facilmente calcular a proporção de
pessoas que se encaixa em certas faixas da curva.
Médicos e epidemiologistas se baseiam nessas informações para saber
se uma determinada medida pode indicar um problema de saúde. A ideia
geral por trás desse tipo de ferramenta é de que tudo o que se afasta
muito do observado na maior parte das pessoas pode ser sinal de problema
– essas curvas são usadas, por exemplo, para avaliar se uma criança
está muito baixa e apresenta problemas de crescimento ou para saber se a
concentração de determinadas gorduras no sangue atingiu níveis nocivos à
saúde.
No caso do tamanho do crânio, os 32 cm adotados pelo ministério
representam o ponto de corte para definir se uma criança é suspeita de
ter microcefalia. Esse ponto provavelmente foi escolhido por se afastar
bastante do tamanho médio da cabeça da maioria dos recém-nascidos. A
partir de 37 semanas de gestação, a cabeça dos bebês considerados
saudáveis costuma medir algo em torno de 34,5 cm, segundo os dados da
OMS. A diferença pode parecer pequena, mas 2,5 cm é bastante para um
bebê.

Os
estatísticos usam uma medida chamada desvio-padrão para ter uma ideia
desse grau de afastamento. No gráfico em forma de sino, os 32 cm estão
aproximadamente dois desvios-padrão abaixo da média. Com base nas
propriedades da distribuição normal, sabe-se que uma parte pequena da
amostra, apenas 2,3%, está mais distante da média do que dois
desvios-padrão.
Isso significa que 2,3% dos bebês nascidos no Brasil – o
correspondente a 66,7 mil crianças – poderiam se enquadrar na definição
de microcefalia do ministério. Uma proporção bem menor de recém-nascidos
(0,1% ou 2.900 bebês) tem a cabeça menor ainda. O tamanho do crânio
deles está três desvios-padrão abaixo da média e, na maioria dos casos,
indica problema no desenvolvimento cerebral.
“A grande maioria das crianças classificadas com microcefalia em
qualquer país que segue a recomendação da OMS [ou seja, aquelas que
estão dois desvios-padrão abaixo da média] será normal com a cabeça
pequena”, explica o epidemiologista Cesar Victora, da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel). Ele conta que os casos patológicos,
associados ao zika e a outras infecções ou a problemas genéticos,
representam uma pequena minoria desses 66,7 mil. “A grande maioria
dessas crianças é normal e tem cabeça pequena por motivos genéticos não
patológicos. Elas têm a cabeça e o corpo pequenos porque seus pais são
pequenos ou porque elas sofreram algum tipo de restrição de crescimento
intrauterino, por exemplo, são filhos de mães que fumaram na gestação”,
diz Victora.
“O fato de o tamanho da cabeça estar abaixo de determinado valor não
significa necessariamente que há uma enfermidade”, lembra Kok, que
acompanha os casos de microcefalia no Hospital das Clínicas da USP. “É
preciso analisar a medida do crânio em conjunto com outras informações.
Agora, se a medida se afasta muito da média, é maior a probabilidade de
haver algum problema.”
Microcefalia invisível
Se a medida situada dois desvios-padrão abaixo da média for
mesmo um bom indicador de microcefalia – em alguns países da Europa usam
três desvios-padrão –, tanto no Brasil como nos Estados Unidos o
sistema de saúde está deixando de avaliar muita criança que deveria ser
tratada com mais atenção. Sabe-se que uma parte delas é saudável e não
vai apresentar problemas de desenvolvimento neurológico no futuro, mas
outra parte pode ter alguma enfermidade e mereceria passar por uma
avaliação mais detalhada.
No Brasil, o biólogo paulista Fernando Reinach foi um dos primeiros a
apresentar essas contas para um público mais amplo. Em sua coluna no
jornal O Estado de S.Paulo publicada em 6 de fevereiro, ele
chama a atenção para a divergência entre os números oficiais e os
esperados da microcefalia no Brasil. No texto “Microcefalia que sempre
existiu”, ele afirma: “Essas crianças deveriam ter sido identificadas e
examinadas com cuidado. Mas não foram, porque a notificação não era
obrigatória. Elas seguramente sempre existiram, mas não existem nas
estatísticas do Sistema Único de Saúde (SUS). Agora, com a notificação
obrigatória, e o pânico causado pelo zika, elas estão ‘aparecendo’. Esse
aparecimento súbito pode ser real, e causado pelo zika, ou pode ser uma
anomalia causada pela subnotificação no Brasil”, escreveu o biólogo.
Dúvida sem resposta
Assim como Reinach, alguns pesquisadores já entrevistados por Pesquisa FAPESP
se queixaram da falta de dados históricos confiáveis sobre a
microcefalia no país. A carência de informação dos anos anteriores,
dizem, torna difícil saber se os números atuais estão crescendo só por
causa do zika ou se há outros fatores envolvidos.
No final de dezembro, os pesquisadores do Estudo Colaborativo
Latino-americano de Malformações Congênitas (Eclamc), um consórcio
internacional que acompanha os registros de más-formações em 35
hospitais de sete países, revisaram os dados de microcefalia que haviam
registrado de 1967 a 2015 no Brasil e cruzaram com as informações
coletadas nos últimos três anos pelo Sinasc.
Em um relatório-síntese, disponível no site do grupo, os
pesquisadores afirmam que os números do Sinasc estavam subestimados.
Segundo os cálculos do Eclamc, são esperados dois casos de microcefalia
para cada grupo de 10 mil bebês nascidos no país, mas esse índice deve
ser mais elevado no Nordeste, onde o problema é mais comum do que nas
outras regiões. Usando o índice de microcefalia observado na Europa,
eles calcularam que deveria haver 45 casos entre os 147.597 bebês
nascidos em Pernambuco em 2015. Mas, até o fim de dezembro, o estado
havia reportado 1.153 casos suspeitos (26 vezes mais). Para os
pesquisadores, esses números só poderiam ser explicados se todas as
gestantes pernambucanas tivessem sido infectadas pelo vírus – no
documento não fica explícito qual proporção das mulheres infectadas
poderia transmitir o vírus ao feto.
Os pesquisadores do Eclamc suspeitam que boa parte do aumento seja
decorrente da identificação ativa de casos e concluem que os dados
atuais não permitem avaliar se houve um real aumento da prevalência de
microcefalia ao nascimento no Nordeste, qual a magnitude desse aumento e
se foi devido à exposição ao zika ou ao aumento de outras causas. A
equipe do Eclamc foi procurada, mas não quis dar entrevista.

Apesar
dessas considerações e da causalidade ainda não demonstrada, em meados
de fevereiro o ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que 40% dos
casos suspeitos de microcefalia notificados nos últimos meses estão
relacionados à infecção por zika.
O informe epidemiológico nº 14, divulgado pelo ministério no final de
fevereiro, indica que, dos 5.640 casos notificados de 8 de novembro a
20 de fevereiro, 1.533 já foram investigados e 583 (10,3% dos 5.640)
receberam a confirmação de microcefalia. Segundo o documento, exames
moleculares detectaram o material genético do zika em 67 dos 583 casos
confirmados. Nos 516 restantes a confirmação se deu por exames de
imagens do cérebro que permitiram observar lesões anteriormente
associadas ao zika. Ainda de acordo com o informe, o ministério suspeita
que a maior parte das mães dessas crianças teve zika. No entanto, não
deixa claro se nos 516 casos classificados por exames de imagem foi
eliminada a possibilidade de outras infecções
que provocam microcefalia (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes e sífilis).
O ministério não atendeu às solicitações de esclarecimentos.
No informe epidemiológico nº 14 também não há detalhes sobre os 950
casos que foram excluídos. O documento sugere que as crianças não teriam
microcefalia de origem infecciosa, mas poderiam apresentar outra forma
do problema.
Sabe-se que as infecções não são a única causa de microcefalia – e talvez nem a mais comum. Na revisão de 2009 da Neurology,
de 15% a 50% dos casos de microcefalia podem ser de origem genética. Há
ao menos 16 genes conhecidos que causam o problema quando suas duas
cópias encontram-se alteradas. Além disso, fatores ambientais, como o
consumo de álcool na gestação ou a exposição a poluentes e produtos
tóxicos, também podem causar microcefalia. Quanto cada um deles
contribui para o total de casos? “Não conheço estudos que mostrem isso”,
diz Kok.
Um grupo de médicos e epidemiologistas do Rio Grande do Sul, de São
Paulo e do Ceará suspeita que a estratégia de considerar quem nasce com
crânio menor que 32 cm um potencial caso de microcefalia está incluindo
no pacote muitos bebês que são saudáveis.
Em um artigo publicado em fevereiro na revista Lancet, a
equipe coordenada por Cesar Victora, da UFPel, levantou várias razões
técnicas para isso. A primeira é que adotar uma nota de corte única para
bebês de ambos os sexos não é adequado, uma vez que as meninas, em
média, nascem menores que os meninos. Além disso, os pesquisadores
argumentam, 68% dos bebês brasileiros nascem antes de completar 40
semanas de gestação, em parte por causa das altas taxas de cesarianas, e
podem ser menores que o normal.
Para reduzir o número de bebês que não têm o problema – os chamados
falsos-positivos – entre os que passarão por mais avaliações, o grupo
sugere que se adotem curvas de padrão de crescimento mais adequadas à
realidade da população brasileira e com maior poder de detectar os casos
verdadeiramente positivos, como a produzida pelo consórcio Intergrowth
21
st, que o grupo de Pelotas ajudou a desenvolver (
ver Pesquisa FAPESP nº 225). Atualmente, além dos 32 cm para os bebês que nascem a partir da 37
a
semana de gestação, o ministério adota uma curva de crescimento
produzida com crianças de países ricos, a curva de Fenton, para realizar
a triagem daqueles que nascem prematuros.
Para o médico e epidemiologista Eduardo Massad, também professor da
FM-USP, a infecção pelo vírus zika pode explicar parte do aumento dos
casos de microcefalia. “Exatamente quanto? Não se sabe”, afirma. Na
opinião dele, o importante é que se encontrou o vírus em 67 dos 583
casos confirmados, o que reforça a conexão do vírus com o problema,
embora ainda não demonstre conclusivamente uma relação de
causalidade.
“Existe uma associação inequívoca entre a infecção por zika na
gestação e o nascimento de bebês com microcefalia e há uma perfeita
plausibilidade em se atribuir parte do aumento de casos ao vírus”, diz
Massad. “Uma fração de fetos infectados desenvolve microcefalia, mas
ainda não se sabe o tamanho dessa fração.”
Rápido demais
No estudo da Paraíba, o grupo de Sandra Mattos detectou uma
elevação principalmente nos casos graves de microcefalia a partir do
terceiro trimestre de 2015, que poderia estar associada à circulação do
vírus. Ela suspeita, porém, que se esteja concluindo rápido demais que o
zika é único causador do problema. “Não queremos eliminar a influência
do vírus, mas questionar se não haveria mais fatores envolvidos, como
outras infecções e a subnutrição, comuns na população”, diz Sandra, que é
diretora da Unidade de Cardiologia Materno-Fetal do Real Hospital
Português de Beneficência de Pernambuco. “Precisamos conhecer bem com o
que estamos lidando.”
As pesquisas epidemiológicas só estão começando. Na Paraíba, o grupo
de Sandra participa de um estudo com pesquisadores dos Centros de
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos e do Ministério
da Saúde que tem como objetivo verificar o risco de mulheres infectadas
terem filhos com microcefalia. Em São Paulo, pesquisadores da Rede
Zika, consórcio de cerca de 40 grupos de universidades e institutos de
pesquisa paulistas, financiado pela FAPESP, realizarão um estudo
semelhante.
Os resultados levarão meses para serem conhecidos. Segundo Massad,
também são necessárias mais pesquisas e mais longas – que acompanhem
toda a população e verifiquem qual proporção das gestantes é infectada
pelo vírus e tem filhos saudáveis ou com problemas.
Fonte: Revista Fapesp on Line
Por: Ricardo Zorzeto / março 2016