Plataforma com aparelho de ressonância inédito na América Latina vai
estudar cadáveres para avançar no diagnóstico e na compreensão de
doenças
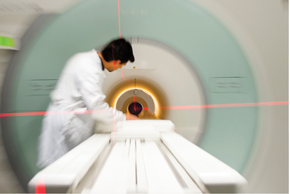
O equipamento da FM-USP: ambiente fértil para pesquisa
No início da tarde do dia 13 de março, uma nova research facility
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) será
inaugurada, no intervalo de um encontro científico internacional sobre
mapeamento cerebral. Batizado de Plataforma de Imagem na Sala de
Autópsia (Pisa), o laboratório foi instalado numa construção subterrânea
de 500 metros quadrados, escavada num terreno contíguo à sede da
FM-USP, e abriga o Magnetom 7T MRI, primeiro equipamento de ressonância
magnética para corpo inteiro com campo de 7 Tesla da América Latina. O
equipamento será utilizado principalmente no estudo de cadáveres
recebidos pelo Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC), que é
mantido pela USP e realiza em torno de 14 mil autópsias por ano
relativas a mortes naturais (as mortes violentas estão a cargo do
Instituto Médico Legal). Um dos objetivos das pesquisas é desenvolver
técnicas de diagnóstico por imagem que ajudem a identificar a causa da
morte de modo menos invasivo do que uma autópsia convencional. Os
estudos com os mortos prometem ajudar os vivos, ao propiciar avanços em
diagnóstico e na compreensão de doenças. “Na área de diagnóstico,
devemos ter retorno imediato”, diz Paulo Hilário Saldiva, professor
titular de Patologia da FM-USP e coordenador do projeto.
Saldiva se refere a doenças que atingem órgãos difíceis de estudar
enquanto o paciente está vivo, uma vez que a retirada de tecidos é
arriscada. “Nunca se fez tanta quimioterapia como hoje e alguns
pacientes acabam apresentando problemas cardíacos, porque há drogas
tóxicas para o coração. Uma ideia é submeter pessoas que morreram desses
problemas cardíacos a uma autópsia minimamente invasiva e obter
amostras pontuais de tecidos do coração. Esse trabalho pode ser feito
rapidamente, em 15 ou 20 minutos, atrasando pouco a liberação do corpo
para a família.”

Imagens de ressonância 7 Tesla
Entre as possibilidades que se abrem, Saldiva também cita pesquisas
sobre os chamados nódulos pulmonares solitários que aparecem
isoladamente em exames de diagnóstico, mas sobre os quais se sabe pouco,
pois na maior parte das vezes não há indicação de biópsia. Os pacientes
têm que fazer exames de controle. Será possível retirar amostras desses
nódulos em autópsias minimamente invasivas e gerar informação sobre
suas características. O diretor do SVOC, Carlos Augusto Pasqualucci, que
é professor do Departamento de Patologia da FM-USP, ressalta as
múltiplas abordagens do projeto. “Nossa expectativa é de que promova um
aperfeiçoamento da investigação da causa das mortes naturais e torne
mais sensíveis exames de diagnósticos de doenças”, diz. “A ideia é
utilizar as imagens de ressonância obtidas para que os radiologistas
compreendam melhor a natureza de alterações em órgãos e tecidos e façam
diagnósticos melhores.”
“Vamos trabalhar com as famílias um outro conceito de doação, a de
conhecimento, mostrando a importância do estudo de cadáveres para
avançar na compreensão de doenças”, afirma Paulo Saldiva. “Há outros
equipamentos de 7 Tesla no mundo, mas nenhum opera num ambiente fértil
para pesquisa como o nosso.” O diretor da Faculdade de Medicina da USP,
José Otávio Costa Auler Junior, define o Pisa como “um projeto inovador,
competitivo, multidisciplinar e de convergência tecnológica, com
aspecto multiusuário, já que agrega diferentes grupos de pesquisa em
torno do mesmo objetivo”. Segundo ele, a iniciativa permitiu a
integração com estruturas do Hospital das Clínicas (HC) e se tornou
modelo de gestão para futuros projetos do sistema acadêmico da FM-USP e
do HC. “Pesquisadores, técnicos e administradores de várias unidades e
instituições trabalharam juntos e arduamente para desenvolver o Pisa,
financiado com recursos públicos”, afirma.
O
custo do equipamento foi de U$ 7,695 milhões e envolveu recursos da
FAPESP, da USP e da Fundação Faculdade de Medicina. Fabricado na
Alemanha e na Inglaterra, o Magnetom 7T MRI é um equipamento de
ultra-alto campo que oferece maior nível de sensibilidade e detalhamento
para medidas estruturais e funcionais do organismo humano com
ressonância magnética, tecnologia de diagnóstico por imagens que
possibilita identificar propriedades de uma substância do corpo humano
de modo não invasivo. As bobinas do aparelho interagem com os tecidos,
em seu interior, utilizando ondas eletromagnéticas. Em seguida, são
construidas as imagens, decodificando o sinal recebido dos átomos de
hidrogênio da água que compõe o corpo humano. Tesla (homenagem a Nikola
Tesla, inventor que fez grandes contribuições para a utilização da
eletricidade e do magnetismo) é uma unidade de medida do campo
magnético. A precisão das imagens geradas por um equipamento 7 Tesla,
traduzida na resolução e na capacidade de discernir alterações, é mais
de 5,4 vezes superior à de equipamentos 3 Tesla e 21 vezes superior à de
aparelhos 1,5 Tesla utilizados em hospitais. Um aumento de duas vezes
no campo magnético quadruplica a precisão das imagens. O padrão 7 Tesla
ainda não foi liberado para fins clínicos, mas já está sendo usado em
vários centros de pesquisa no mundo. O Magnetom 7T MRI foi adquirido no
âmbito do Programa Equipamentos Multiusuários (EMU) da FAPESP, voltado
para a compra de equipamentos de última geração que se tornam
disponíveis para um amplo número de pesquisadores, de instituições do
Brasil e até do exterior, cujos projetos são selecionados segundo
critérios rigorosos.
Num primeiro momento, mais de 20 projetos de pesquisa se beneficiarão da nova facility
– alguns deles estão em andamento e utilizam imagens feitas por um
equipamento de tomografia computadorizada instalado no SVOC. O conjunto
será composto também por ultrassom e raios X. O tomógrafo foi adquirido
com recursos da Pró-reitoria de Pesquisa dentro do projeto do Núcleo de
Pesquisa Integrada em Autópsia e Imagenologia (Nupai). Um dos projetos
mais ambiciosos talvez seja o Brazilian Imaging and Autopsy Study
(Bias), coordenado por Saldiva, que busca criar alternativas para
autópsias invasivas utilizando o diagnóstico por imagem. O trabalho de
validação de novos métodos vai se basear em estudos comparativos. A
estratégia é, com o consentimento da família do paciente morto, submeter
o cadáver à ressonância magnética e depois à autópsia convencional, e
comparar resultados dos dois procedimentos. Um dos projetos
internacionais a que o equipamento dará suporte é o da autópsia verbal,
programa de computador que busca esclarecer as causas da morte de um
indivíduo fazendo um conjunto de perguntas a seus familiares. “É um
recurso que está sendo usado em lugares remotos, onde não há médicos
para verificar a causa de uma morte natural”, explica Saldiva. Os
resultados desse questionário também serão comparados às imagens de
ressonância e à autópsia convencional, para avaliar até que ponto ajudam
a determinar a causa da morte.
Paulo
Saldiva conta que o Ministério da Saúde planeja ampliar a oferta de
serviços de verificação de óbitos no Brasil, de forma a ter um deles
para cada grupo de 3 milhões de habitantes. “Uma limitação é a falta de
patologistas”, diz. “Fazer autópsia não é um trabalho muito atraente
para os médicos: é preciso estudar bastante, o trabalho toma tempo e não
é bem remunerado.” Melhorar a qualidade da assistência por meio de
técnicas de imagem ajudaria a amenizar o problema. “Há mais tomógrafos
que salas de autópsia em hospitais, assim como é comum haver mais
radiologistas disponíveis do que patologistas”, pondera Saldiva.
Os pesquisadores não vão partir do zero. Esse trabalho vem sendo desenvolvido no tomógrafo computadorizado disponível no SVOC, onde 900 exames post mortem foram realizados, sendo 300 deles com angiografia do corpo inteiro, técnica por meio da qual se injeta líquido de contraste na circulação sanguínea do cadáver em busca de evidências que ajudem a definir a causa da morte.
Os pesquisadores não vão partir do zero. Esse trabalho vem sendo desenvolvido no tomógrafo computadorizado disponível no SVOC, onde 900 exames post mortem foram realizados, sendo 300 deles com angiografia do corpo inteiro, técnica por meio da qual se injeta líquido de contraste na circulação sanguínea do cadáver em busca de evidências que ajudem a definir a causa da morte.
Os estudos comparativos, observa Saldiva, podem ajudar no controle de
qualidade hospitalar. “Uma pesquisa feita sobre a acurácia dos
atestados de óbito mostrou que há taxa de desconformidade de 20%, ou
seja, em 20% dos casos a causa da morte apontada não é a real. O
conhecimento gerado pela plataforma Pisa poderá ajudar a determinar se o
atendimento hospitalar fez tudo o que poderia fazer pelo paciente que
morreu.”
Os
projetos de pesquisa em curso que se beneficiarão com a nova plataforma
envolvem estudos de doenças cardiovasculares, pulmonares, oncológicas,
neurológicas e obstétricas e a investigação de técnicas de imagem
avançadas. “Em comum, todos esses projetos trabalham com imagens post mortem
e validação de técnicas de diagnóstico microscópicas e macroscópicas”,
afirma Edson Amaro Júnior, professor do Departamento de Radiologia da
FM-USP e um dos membros do comitê gestor da iniciativa. A equipe do
projeto Pisa vai atuar em parceria com pesquisadores dos Estados Unidos,
Inglaterra, Alemanha, Holanda e Israel, que formaram uma rede global
interligada virtualmente. As colaborações incluem, por exemplo, Kamil
Uludag, professor do Departamento de Neurociência Cognitiva da
Universidade de Maastricht, na Holanda, cujo laboratório também trabalha
com imageamento cerebral com ressonância 7 Tesla. Ou ainda os alemães
Waldemar Zylka, professor da Universidade de Ciências Aplicadas de
Gelsenkirchen, que há tempos colabora com a USP, e Harald H. Quick,
professor da Universidade de Duisburg-Essen, um dos primeiros centros a
utilizar equipamentos de 7T de corpo inteiro. Peter Morris, da
Universidade de Nottingham, no Reino Unido, é um dos parceiros de
pesquisadores do Instituto de Física da USP em São Carlos e da
Universidade Estadual de Campinas no desenvolvimento de bobinas para o
equipamento 7 Tesla.
Há dez anos a FM-USP mantém o que se tornou o maior banco de cérebros
do mundo, com mais de 3 mil órgãos. Cerca de 350 são coletados a cada
ano por meio de doações. O neurocientista alemão Helmut Heinsen, da
Universidade de Würzburg, veio em outubro do ano passado para o Brasil
trabalhar no banco de cérebros durante dois anos. Ele utiliza uma
técnica que mergulha o órgão numa substância chamada celoidina, derivada
da celulose, que ganha uma consistência plastificada. Depois, ele é
seccionado em fatias de menos de 1 milímetro de espessura que abastecem
estudos sobre doenças neurológicas e degenerativas. Também esse projeto
terá uma interface com a plataforma Pisa: antes de serem seccionados, os
cérebros serão submetidos à ressonância 7 Tesla, e as imagens
produzidas serão comparadas com as obtidas pelo uso da celoidina.
O projeto terá outras vertentes, como a do ensino médico. “O impacto
dessas imagens na formação dos médicos será grande, num momento em que o
currículo da FM-USP está sendo renovado e há uma convergência
progressiva entre a patologia e a radiologia”, diz Edson Amaro Júnior. A
produção de material didático, como novos atlas de anatomia, e a
possibilidade de comparar imagens de órgãos ou tecidos sadios e
alterados prometem melhorar a formação dos profissionais de medicina.
A
planta do laboratório foi desenhada para viabilizar todas as atividades
previstas. Depois da recepção, há duas pequenas salas, destinadas à
realização de entrevistas com familiares do indivíduo morto para coleta
de informações e obtenção do consentimento para a participação em
pesquisas (ver infográfico).
Em outra entrada, há uma sala para preparação do cadáver. Ao lado da
sala do equipamento de ressonância magnética há um espaço destinado à
experimentação animal – painéis instalados na parede construídos de
forma a não comprometer a blindagem da sala vão intercambiar dados com
experimentos feitos do lado de fora.
As instalações contam também com um espaço maior para treinamento –
que poderá funcionar para aulas –, uma sala de comando e diversas outras
para acondicionar equipamentos de apoio, como o ar-refrigerado, e os chillers,
aparelhos que fornecem de maneira contínua água gelada para o
resfriamento do hélio gasoso e de outros instrumentos do equipamento de
ressonância magnética. O hélio precisa ser mantido em estado líquido, a
269 graus Celsius negativos, para garantir propriedades supercondutoras à
bobina do equipamento e gerar o campo magnético.
A plataforma Pisa começou a nascer em 2009, quando Paulo Saldiva e
Edson Amaro Júnior, numa conversa casual, cogitaram trabalhar juntos
fazendo pesquisa com imagens de mortos. Saldiva tomou a iniciativa de
procurar a direção da FM-USP e pedir algum tomógrafo que estivesse sendo
desativado para usar no SVOC. Conseguiu. Depois apresentou um projeto
ao Programa Equipamentos Multiusuários para a aquisição de uma máquina
de ressonância magnética moderna, campo de 3 Tesla. A FAPESP aprovou o
projeto. O interesse de diversos grupos da faculdade em participar da
iniciativa levou a uma reavaliação de seu escopo – e surgiu a ideia de
trabalhar com um equipamento 7 Tesla. “Pedimos contrapartidas maiores da
USP e da faculdade e as coisas foram se viabilizando”, lembra Edson
Amaro. Um convênio entre a FAPESP, a FM-USP e a Fundação Faculdade de
Medicina foi celebrado em 2012.
Em maio de 2012 foi definido o projeto arquitetônico da plataforma,
num terreno que servia de estacionamento e de passagem de pedestres
atrás da sede da FM-USP. Por se tratar de uma área tombada, a opção foi
construir um laboratório subterrâneo, que teria um ano para ser
construído, conforme previsto num cronograma feito pela Siemens.
“Fazíamos reuniões semanais para a obra não atrasar”, lembra Marina
Caldeira, gerente de inovação da FM-USP e responsável pelo
acompanhamento do projeto. Uma empresa de gerenciamento foi contratada
para monitorar a construção e algumas mudanças no projeto foram
necessárias. As instalações da plataforma Pisa ficam ao lado do SVOC e a
ideia era conectar o novo laboratório ao túnel subterrâneo que liga o
Hospital das Clínicas ao SVOC, por onde as pessoas que morrem no
hospital são transportadas. Descobriu-se que o túnel estava mais próximo
da superfície que o imaginado e a planta foi adaptada.

O Magnetom 7T MRI: fabricado na Alemanha e na Inglaterra pela Siemens, ainda não teve uso clínico autorizado
Enquanto o prédio ia sendo construído, o setor de importação da
FAPESP organizou os trâmites para a aquisição do equipamento, uma das
compras de valor mais elevado já feitas pela Fundação. A tarefa de
comprar os equipamentos e trazê-los para São Paulo foi coordenada por
Rosely Aparecida Figueiredo Prado, a Rose, gerente de importação e
exportação da FAPESP. A negociação do contrato, feita no segundo
semestre de 2012, durou alguns meses. “Algumas cláusulas do contrato da
Siemens não se aplicavam a uma instituição como a FAPESP e tiveram de
ser modificadas”, diz Rose. O início formal do processo ocorreu em 12 de
novembro de 2012.
O equipamento foi fabricado pela Siemens em dois países: o magneto
veio da Inglaterra e o conjunto da ressonância, da Alemanha. O desafio
foi tentar combinar os prazos para fabricação e transporte com o
cronograma de construção das instalações do laboratório. Rose queria
embarcar as duas partes do equipamento num mesmo navio, mas isso se
mostrou inviável.
Os dois navios com os equipamentos chegaram ao porto de Santos com
poucos dias de diferença. Enquanto o conjunto alemão zarpou no dia 6 de
outubro de 2014 e chegou a Santos no dia 23, o magneto deixou a
Inglaterra no dia 2 e desembarcou no dia 29. No dia 3 de novembro, a
carga já estava desembaraçada, mas se optou por deixá-la mais alguns
dias nos armazéns da empresa Deicmar, em Santos, porque faltava blindar a
sala onde o equipamento seria montado.
Na
sequência, o equipamento no porto de Santos; sua chegada à FM-USP;
blindagem da sala de exames com aço silício; três momentos do içamento
da máquina para instalação no laboratório; a colocação do teto; e o
acabamento final da sala
Faltavam poucos meses para a chegada dos equipamentos quando se
iniciou o processo de importação de matéria-prima para blindagem,
composta de placas especiais de cobre, lã de rocha e aço silício. A
fornecedora escolhida foi a ETS Lindgren, dos Estados Unidos, ao custo
de US$ 123 mil. Para agilizar o transporte, optou-se por trazer todo o
material por avião. Em 8 de novembro, quatro caminhões subiram a serra
com o equipamento de ressonância desmontado e o entregaram na FM-USP. Um
grande teste viria nesse dia A estiagem em São Paulo em 2014 ajudou na
construção do laboratório, mas a primeira grande chuva colocou à prova o
sistema de escoamento. A água chegou a invadir a plataforma, mas foi
contida e o problema solucionado. Quatro dias depois o material para
blindagem, desembarcado no Aeroporto de Viracopos, chegava à faculdade.
O içamento do Magnetom 7T MRI aconteceu no dia 25 de novembro. Como o
espaço para manobra ao redor da FM-USP é pequeno, foram necessários
dois guindastes para levantar o aparelho e colocá-lo dentro da
plataforma através de um vão aberto no teto, tampado em seguida. A cada
etapa do processo as pessoas envolvidas discutiam as dificuldades que
teriam pela frente – e o professor Saldiva encerrava a conversa com um
bordão: “Vamos rezar para a Nossa Senhora Desatadora de Nós”. No dia do
içamento alguém se lembrou de colocar uma imagem da Virgem, alvo de
culto numa igreja alemã há mais de 300 anos, dentro do equipamento de
ressonância. Às vésperas da inauguração da plataforma, Saldiva comentava
que o percurso foi longo, mas as circunstâncias jogaram a favor da
iniciativa. “Todas as pessoas a quem mostramos o projeto deram apoio e
concordaram que a ideia era boa. Em vez de colocar obstáculos, propunham
soluções. Isso é raro acontecer”, afirma.
Projeto
Plataforma de Imagem na Sala de Autópsia (n. 2009/54323-0); Modalidade Programa Equipamentos Multiusuários; Pesquisador responsável Paulo Hilário Saldiva (FM-USP); Investimento R$ 10.352.243,31 (FAPESP).
Plataforma de Imagem na Sala de Autópsia (n. 2009/54323-0); Modalidade Programa Equipamentos Multiusuários; Pesquisador responsável Paulo Hilário Saldiva (FM-USP); Investimento R$ 10.352.243,31 (FAPESP).
Fonte: Revista Fapesp on line ed. 229 - 2015
Por: Fabrício Marques


















